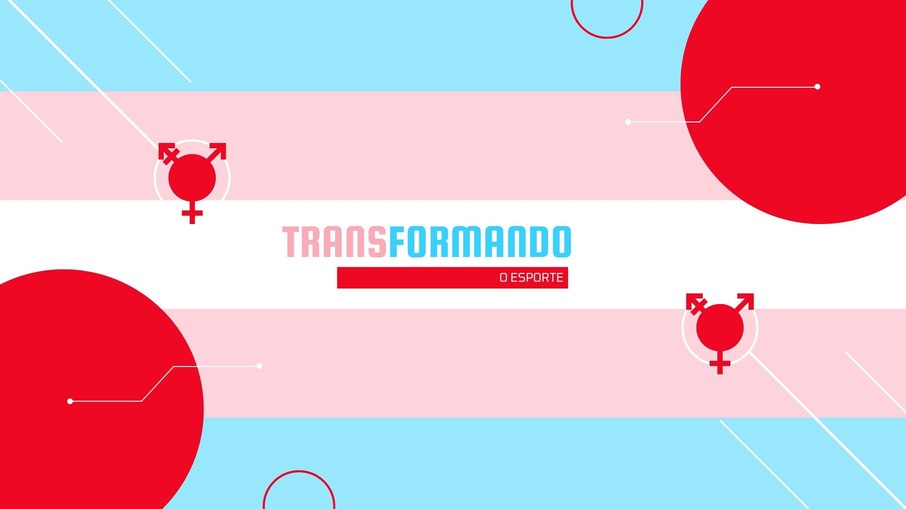
Na quarta reportagem da série “TRANSformando o Esporte”, o iG Queer reúne profissionais das áreas de pesquisa, saúde e política para apresentar em que ponto está a discussão sobre a inclusão de atletas trans no esporte – principalmente do ponto de vista corporal, científico e de desempenho esportivo. Atualmente, o debate é cercado de muitas dúvidas, desinformações e informações manipuladas para tentar justificar uma exclusão definitiva dessa população no âmbito do esporte de alto rendimento.
As informações utilizadas para abordar o tema são consideradas, até mesmo por especialistas, insuficientes para conseguir alcançar uma resposta concreta de quais são os obstáculos a serem superados. Por esse motivo, o iG Queer reforça que a discussão proposta nas reportagens não é sobre se é justo ou não que pessoas trans possam competir em esportes profissionalmente. O intuito é o aprofundamento dos questionamentos e das possíveis soluções para moldar um cenário esportivo em que essa população consiga ser plenamente incluída.
O Comitê Olímpico Internacional (COI) explicita que não há nenhuma comprovação de vantagem ou desvantagem em relação ao desempenho de atletas transgênero em comparação com atletas cisgênero (ou seja, de uma pessoa em congruência com o gênero atribuído no nascimento), desde que os níves hormonais previstos pelo órgão sejam seguidos pelos atletas.
Hoje o comitê estabelece que mulheres trans podem competir desde que realizem 12 meses de terapia hormonal com estrogênio e comprovem que os níveis de testosterona se encontram no nível de 10 nmol/L. O COI não estabelece essas orientações como padrão, o que significa que cada federação esportiva pode escolher acatar ou não esses pré-requisitos; além de permitir modificações de acordo com cada modalidade.
As mulheres trans são as que mais precisam cumprir com regulamentos, incluindo escrever um termo a próprio punho atestando que se identificam com o gênero feminino (cujo conteúdo não pode ser alterado pelos próximos quatro anos) e ter a documentação adequadamente retificada. No caso de homens trans, o comitê estabelece como necessária apenas a retificação de documentos.
No entanto, a opinião pública levanta questionamentos em relação aos atuais critérios e indicam que atletas mulheres trans teriam uma vantagem nas competições realizadas na categoria feminina. Essa argumentação é frequentemente sustentada por transfobia e tom determinante, incluindo no campo político, pois não há iniciativas suficientes para fomentar a pesquisa e buscar alternativas capazes de incluir essas pessoas no esporte de alto rendimento.
Como funciona a reposição hormonal
Antes de discutir o cenário científico atual, é necessário compreender a terapia hormonal realizada para adequação de gênero em pessoas trans. A endocrinologista Anna Paula Oliveira, especializada na administração do tratamento de reposição hormonal, explica que há diversos desentendimentos acerca do que forma uma pessoa trans, bem como os efeitos da própria terapia hormonal em si.
“Esse procedimento é feito com dois objetivos: o primeiro é realizar a adequação ao gênero com o qual aquela pessoa se identifica. Para isso, é usado o estrogênio no caso da mulher trans e a testosterona para o homem trans”, começa a médica.
“O segundo objetivo é bloquear o hormônio genético daquela pessoa. Por exemplo: o estrogênio é usado em mulheres trans para acrescentar características consideradas femininas, mas também para bloquear a produção biológica da testosterona – hormônio que não está de acordo com o gênero com o qual ela se identifica”, acrescenta.
O pesquisador Leonardo Morjan Britto Peçanha reforça que o intuito da reposição hormonal não é apenas estético, mas tem caráter funcional devido ao impacto causado no funcionamento do corpo. Ele é professor de educação física, licenciado e bacharel, especialista em gênero e sexualidade, mestre em ciência da atividade física e doutorando em saúde coletiva.
José C. Martins Junior, médico do Transgender Center Brasil e considerado referência em cirurgias realizadas por pessoas trans, esclarece que existe um intervalo de tempo durante o qual o estrogênio começa a fazer efeito no corpo de uma mulher trans. “Se ela tem um corpo musculoso com uma leitura masculina e começou a bloquear a testosterona e usar o estrogênio, inicia-se um redistribuição de gordura corporal, ou seja, os músculos vão assumir um volume menor, tudo voltado para o que é lido socialmente como feminino. Existe um timing para isso”.
Impacto da testosterona, variáveis e falta de respaldo
Mesmo com a exigência do COI (Comitê Olímpico Internacional) de que atletas trans mulheres estejam com baixos níveis de testosterona por pelo menos 12 meses antes das competições, existem questionamentos acerca do tempo em que essa atleta esteve exposta à testosterona antes da transição e como isso impacta no desempenho. Normalmente, esse ponto é levantado como um argumento cercado de transfobia para tentar impedir que mulheres trans compitam, por isso é importante que o contexto científico seja exposto e analisado como um todo.
Oliveira chama atenção para o fato de que todos os indivíduos produzem tanto a testosterona quanto o estrogênio. A diferença está na proporção desses hormônios em cada um dos corpos. “A maioria das mulheres trans passou por uma puberdade ‘masculina’, então elas sofreram ação da testosterona no corpo e isso faz com que tenham mais altura, uma massa muscular maior e uma produção de hemácias maior – que são as células que transportam oxigênio. Isso é importante porque fornece mais fôlego”, explica.
Ainda de acordo com a especialista, não há respaldo científico suficiente para promover um consenso acerca da possibilidade – ou não possibilidade – da exposição hormonal à testosterona ser decisiva no resultado de uma competição em alto rendimento.
“Por exemplo: na natação, no futebol e em esportes de velocidade, ter mais hemácias é impactante. Até o momento, não existem estudos ou investigações que provem que esse efeito da testosterona durante a adolescência vai se manter mesmo que seja feito o bloqueio hormonal e que hoje elas tenham um nível de testosterona igual ao de uma mulher cis”.
De acordo com Martins, a maior dificuldade quando se fala sobre desempenho em alto rendimento é a riqueza de detalhes, pois a menor influência pode impactar no resultado final.
“Falar sobre esporte está diretamente relacionado a detalhes e frações de segundo. Imagina-se que essa pequena diferença, essa breve exposição [à testosterona], possa ser um benefício para essa atleta. A força, resistência e capacidade pulmonar dela é diferente”, expõe. “A maior polêmica hoje no esporte é essa: saber se o que a atleta tem de bagagem antes da transição está gerando uma competição desleal com a pessoa cisgênero”.
O médico diz ainda que a variedade de modalidades e suas respectivas especificidades também influencia em como será feita a análise do desempenho de mulheres trans atletas, uma vez que a preparação dela como um todo deve ser levada em conta, além do tempo de terapia hormonal.
“Se colocarmos um homem cis não atleta para jogar futebol no campo com a Marta e a Formiga da Seleção Brasileira, ele não vai ter a mesma capacidade pulmonar que elas, por exemplo. Estamos falando de diferentes categorias, por isso a dificuldade do tema: não é uma única variável, existe muito a considerar”, aponta.
Devido à multiplicidade de fatores envolvidos, Oliveira declara ao iG Queer que as condições impostas pelo COI a respeito do nível hormonal são válidas, porém não suficientes. Ela levanta a possibilidade dessas normas serem revistas a fim de encurtar a margem de dúvidas e questionamentos acerca da participação de atletas trans. Uma alternativa seria aumentar o tempo em que essa atleta precisa estar com os níveis de testosterona baixos antes de competir, mas se isso for feito há o risco de surgirem outros impasses.
“Os melhores atletas são, em sua maioria, pessoas jovens. Se formos pensar em mulheres trans que estão a um período mais prolongado com testosterona baixa, elas teriam uma idade um pouco maior que poderia ser considerada avançada para o esporte. Um atleta entre 25 e 30 anos já é visto como velho no meio”, observa.
Tendo em vista esse fator, a endocrinologista também traz à tona algumas possibilidades que permitam o bloqueio de testosterona em menos tempo para que a atleta consiga competir mais cedo: “Podemos fazer esses ajustes por doses. Existem medicações que são utilizadas para bloquear a testosterona de uma forma mais intensa”.
Martins aponta que outra possível forma de promover a maior inclusão de atletas trans seria definir qual o tempo máximo de exposição à testosterona que cada atleta pode ter, levando em consideração a modalidade esportiva na qual o indivíduo deseja competir e os respectivos pontos a serem considerados com relação ao desempenho nesta categoria.
“Pode-se abrir um leque pensando o seguinte: essa categoria seria para quem iniciou a transição entre os dezessete e os dezoito anos, ou essa categoria para quem teve exposição até os trinta anos. Estou levantando aqui uma hipótese, talvez orientar os atletas de acordo com o tempo de exposição seria uma alternativa dependendo de cada categoria”, explica.
O médico também chama atenção para o caso de crianças trans, ou seja, aquelas que se identificam enquanto transgênero ainda durante a infância. Nesses casos, procedimentos como bloqueador de puberdade fazem com que essa criança não tenha um tempo prolongado de exposição à testosterona, por exemplo, o que por sua vez impacta no desempenho dela futuramente, uma vez que decida seguir na carreira esportiva.
“Recentemente, eu operei uma pessoa trans que se identificou aos sete anos de idade e, aos 12, ela foi ao endocrinologista e bloqueou a puberdade. A partir daquele momento, a testosterona já teve um efeito reduzido, então esse corpo não foi capaz de receber todas as transformações que a testosterona ia causar. Isso repercute na força e na resistência”, declara.
Além dos fatores ligados à transição de gênero pela qual atletas trans passam, é preciso levar em consideração a própria corporalidade transgênero e como a reposição hormonal afeta esse corpo. O pesquisador Leonardo Morjan Britto Peçanha é formado, licenciado e bacharel em educação física, especializado em gênero e sexualidade, mestre em ciência da atividade física e doutor em saúde coletiva. Ele usa como exemplo a jogadora de vôlei Tiffany Abreu e comenta que as discussões sobre o desempenho do corpo trans são rasas.

“A própria Tiffany sempre fala que sente cãibras, por exemplo. São dores que mulheres cis podem sentir por outros motivos, mas no caso dela provavelmente pode ser devido à reposição hormonal, como ela mesma já disse em algumas reportagens. O corpo dela passou por vários processos de modificações corporais, incluindo cirúrgicos e hormonais. Tudo isso tem impacto e não é levado em consideração. Isso é abordado nesse tema como se fosse um mero detalhe, mas não é: esse é exatamente um dos pontos mais primordiais. A mudança não é apenas estética, mas funcional também”, diz Peçanha.
O termo “vantagem” é muito presente em argumentações transfóbicas que desejam excluir atletas trans do cenário esportivo. Como discutido anteriormente, existem muitas variáveis a serem consideradas no que diz respeito ao desempenho dessa população, bem como uma quantidade insuficiente de levantamento científico para guiar as normas e políticas de inclusão neste meio.
Sobre isso, Peçanha destaca que as pessoas que se apossam desse termo o usam para colocar atletas trans em uma posição marginalizada: “Os que questionam e falam em vantagem sequer se colocam enquanto pessoas cisgênero, mas querem deturpar, falar e ser transfóbicas levando em consideração apenas uma perspectiva”, declara.
“As pessoas dizem que discutir a vantagem é ciência, como se o que a gente produz e fala não fosse. A ciência também precisa ser questionada porque ela não é fixa. Que ciência é essa? Uma ciência negacionista? Eu não quero essa ciência. Para mim, é falta de ética. Não olhar para outras perspectivas e ficar engessado apenas numa ideia deturpada do corpo trans”, acrescenta.
Danielle Nunes, atleta amadora de vôlei e ativista engajada na inclusão de pessoas transgênero no esporte nacional, destaca que falar sobre vantagem no esporte envolve também a própria competitividade em si, logo não faz sentido usar essa lógica de modo excludente para com atletas trans.
“Um time da Rússia em um determinado momento vai levar vantagem sobre um time do Japão em uma seleção feminina de vôlei. As russas têm uma média de altura muito maior do que as japonesas, então levam a melhor no tamanho e conseguem bloquear e atacar uma bola de baixo para cima. Em compensação, são mais lentas do que as japonesas, que por sua vez levam vantagem por conta da agilidade e conseguem chegar em lugares mais rápidos do que as russas dentro de uma quadra”, argumenta ela.
“A vantagem existe, porém precisa ser conversada da melhor maneira possível, porque o princípio da lei da individualidade biológica mostra que nenhum ser humano é igual ao outro. Logo, não se pode falar sobre igualdade, mas sobre equidade”, declara Danielle.
A atleta também chama a atenção para fatores externos que exercem influência na performance de quem está competindo, evidenciando o fato de que a terapia hormonal não pode ser colocada em pauta sozinha, uma vez que, além dela, há outras intercorrências que não estão sob controle total do atleta em alguns casos e que podem ser decisivas no desempenho.
“Teve um momento em que meu time estava treinando para o primeiro amistoso, e nosso treinamento é com uma categoria de mulheres acima dos 40 anos. O time com o qual jogamos tinha atletas mais jovens, com jogadoras altas, então foi uma situação atípica. Quando entrei no segundo tempo, recebi muitos saques e errei alguns passes, o que me desestruturou psicologicamente no jogo. Além de tudo isso, também estava jogando com uma levantadora que não estava habituada a treinar. Todos esses fatores influenciam dentro da quadra. No final das contas, meu desempenho foi menor do que o esperado”, explica ela.

No caso de Danielle, o histórico dela no esporte começou no handebol, ou seja, ela não teve contato com o vôlei desde o começo para ter a mesma prática que outras jogadoras do time com o qual pode vir a treinar. De acordo com ela, esse fator também é marcante dentro de quadra.
“A minha origem não é o vôlei, então eu não tenho o mesmo passe de uma atleta que treinou na modalidade a vida toda, minha movimentação é diferente. Carrego muito da herança do handebol, o que não significa que não sou capaz de pontuar ou algo do tipo. A diferença é que eu preciso saltar mais porque jogo com atletas que têm o dobro do meu tamanho, e posso levar prejuízo porque tenho dificuldade em passar pelo bloqueio”, elucida.
Essas próprias dificuldades da atleta, por exemplo, a colocariam em uma desvantagem a depender de circunstâncias como adversárias, estilo de jogo, idades, rotina de treinamento entre muitas outras possibilidades.
“[A discussão da vantagem] pode ter até começado por essa dúvida científica, mas a gente sabe que o que domina o cenário não é essa questão. Se fosse, até em estatística de partida de jogo fica visível que Tiffany [Abreu] não leva vantagem nenhuma. Ela é bloqueada e os times dela nunca foram campeões da Superliga. Só na última temporada ela ficou entre uma das maiores pontuadoras pela primeira vez”, diz. “Agora imagino se ela fosse uma jogadora completa, sem muitos erros, o quão infernal seria a vida dela.”
Invisibilização de homens trans
Ao passo em que a discussão sobre mulheres trans atletas ganha mais destaque e discussões, Peçanha chama atenção para o fato de não existir o mesmo empenho para se discutir os critérios e os cuidados com os homens trans atletas. Pelo fato de um homem trans não ter tido exposições a altos níveis de testosterona na puberdade, ele é, logo, considerado como um competidor fraco e indiferente.
Oliveira questiona a falta de diálogo e de pesquisa ainda maior com relação à reposição hormonal desses atletas. “Será que os homens trans que competem com homens cis terão desvantagem por essa exposição prévia à testosterona em quantidade menor? A própria questão de doping precisa ser revista para compreender até que ponto uma reposição maior de testosterona pode ser considerado um plágio”, explica.
“O tempo de exposição do homem trans à testosterona é muito mais baixo se comparado ao de um homem cisgênero que, a partir da adolescência, tem a alta produção de testosterona nos testículos, o que pode aumenta força muscular, resistência óssea, ligamentos e capacidade pulmonar. Há uma certa desvantagem na prática esportiva. Por isso, é necessário repensar em categorias que levam em conta os biotipos e os desempenhos de cada corpo”, acrescenta Martins.
Até o momento, o COI leva em consideração, tanto para homens como para mulheres cis, os níveis percentuais de corpos cisgênero. Com isso, Peçanha chama atenção para o não entendimento da corporeidade transgênero de homens que querem competir. Essa falta de discussão volta a impactar na forma como aquele competidor é visto social e culturalmente: “Na verdade, o homem trans nem é visto dessa forma, mas como uma mulher, onde se repete os argumentos que inferiorizam os homens trans através da leitura de mulher, que é como leem de maneira transfóbica. E sendo assim em relação a homens trans, trata-se de cissexismo e transmisoginia transmasculina”.
O pesquisador cita como exemplo o boxeador estadunidense Patrício Manoel, que venceu a única competição oficial do esporte, derrotando um homem cisgênero. Patrício não competiu mais depois que venceu. “Os homens cis têm medo de perder para ele. O mérito dele também foi descredibilizado, porque as pessoas apontaram que o adversário estava tendo resultados ruins e, por isso, perderia de qualquer maneira. Isso é inferiorização e invisibilização de pessoas transmasculinas no esporte”, analisa Peçanha.
“Sob essa ótica, inferioriza-se não apenas o desempenho de homens trans, mas de mulheres cis também. O homem trans está sempre alinhado a esse lugar de inferior, fraco, menor e invisível. Estamos existindo nesse não lugar por não haver um entendimento da nossa corporeidade enquanto seres humanos e homens trans que querem competir. O debate nem chega nesse ponto porque fica parado apenas na ‘vantagem’ da mulher trans”, acrescenta.
Entre argumentos que visam questionar a participação de atletas tranasmasculinos no esporte está o fato de que possa ter vantagens para competir pela pouco problematização de elegibilidade de participação e devido aos privilégios relacionados aos homens. No entanto, Peçanha reforça que essa é uma vantagem inexistente. “Falam sobre nós como se nem existíssemos ou com indiferença. Não vejo nenhum privilégio ou vantagem nisso”.
“Nós não queremos receber a transfobia que as mulheres trans recebem, mas o debate nem chega aqui. Algumas poucas pessoas dizem que o homem trans vai ter vantagem ou que vai cair no doping pela reposição hormonal com testosterona, mas os parâmetros continuam sendo os das pessoas cisgênero. Para mim, essa preocupação em relação aos homens trans é transfobia. O debate precisa ser fomentado de maneira ética, respeitosa, sem transmisoginia e cissexismo e legitimando corpos trans”, explica.
Necessidade de pesquisa e possíveis reorganizações no esporte
Oliveira nota que, nos últimos anos, existiu um crescimento de pesquisas que visam pensar a inclusão de atletas trans no esporte, mas aponta que o preconceito é a grande questão por trás da falta de expansão do debate. “Criar uma pesquisa que compare os desempenhos entre pessoas cisgênero e transgênero é viável e envolve dificuldades habituais de um levantamento para medicações específicas ou tipos de doença, por exemplo. É só realizarmos estudos semelhantes para entender a reposição hormonal que torne a competição equitativa para todos os lados”, pondera.
Martins e Oliveira também defendem que não se deve generalizar que todos os corpos trans são passíveis de oferecer uma desvantagem a competidoras cis. Para ambos, é necessário que a avaliação aconteça caso a caso. “O que a comunidade trans usa como argumento – e ela está certa – é que há variabilidade de uma pessoa para outra. É muito difícil dizer que uma atleta trans tem um benefício em relação a uma atleta cis sendo que pode ser que, geneticamente, ela seria uma pessoa mais alta ou com maior massa muscular mesmo se fosse cisgênero”, aponta a endocrinologista.
“Quanto mais avaliações de atletas forem feitas, conseguiremos mais resultados sobre a performance dessas pessoas. Com mais dados, podemos ter um comparativo e, consequentemente, ao longo dos anos vamos conquistar um cenário no qual existam aparatos suficientes para poder comprovar uma tese ou anular essa tese”, reitera Martins.
“Sem isso, vamos ficar no campo do debate, que também é válido, mas não vamos passar das hipóteses. É importante promover a discussão para fomentar a coleta de dados que, no futuro, possam se transformar em informações importantes para conquistar uma disposição equitativa no esporte. O que precisa ser pensado é até que ponto a vantagem existe e até que ponto ela é decisiva”, pontua.
Peçanha afirma que mais do que estudar pessoas trans, os corpos cisgênero também precisam ser objetos de estudo. “Tornar essa necessidade exclusivamente do atleta trans é culpabilizar o atleta e o corpo. É uma demanda do esporte e dos gestores. O atleta só está ali para jogar”, diz.
Ele acrescenta que, além das pesquisas corpóreas, deveriam ser feitas pesquisas para pensar em outros tipos de categorização do esporte, levando em conta, principalmente, o desempenho esportivo. Essa é uma sugestão hipotética que é interessante e considerada mais justa também do ponto de vista de Danielle, Oliveira e Martins.
“Precisaríamos individualizar a avaliação de atletas e levar em conta cada modalidade. Assim devemos chegar em variabilidades muito mais amplas e englobar todos os tipos de atletas”, indica Oliveira. Martins, Peçanha e Danielle salientam que a criação de uma categoria trans é excludente e segregacionista; portanto, não deve ser considerada como aplicável na prática.
“A partir do momento que a gente começar a extrapolar essa ideia de masculino e feminino, pode ser que a situação melhore um pouco, porque assim não estaremos categorizados por uma questão de gênero ou genital, e sim por desempenho esportivo. Aí sim a gente vai começar a pensar de uma maneira um pouco mais com equidade. De repente isso poderia até colocar homens e mulheres competindo na mesma categoria”, explica Peçanha
“Devemos ainda pensar em outra perspectiva de modelo e de categoria que vá além do gênero. Estamos começando a perceber que, da forma como está, o esporte não está dando conta porque existem diversos tipos de manifestações corporais tanto entre corpos transgênero como cisgênero. Infelizmente, até lá, vamos ouvir muitas narrativas transfóbicas, racistas, misóginas e LGBTIfóbicas”, conclui.
Agora você pode acompanhar o iG Queer também no Telegram! Clique aqui para entrar no grupo. Siga também o perfil geral do Portal iG.
